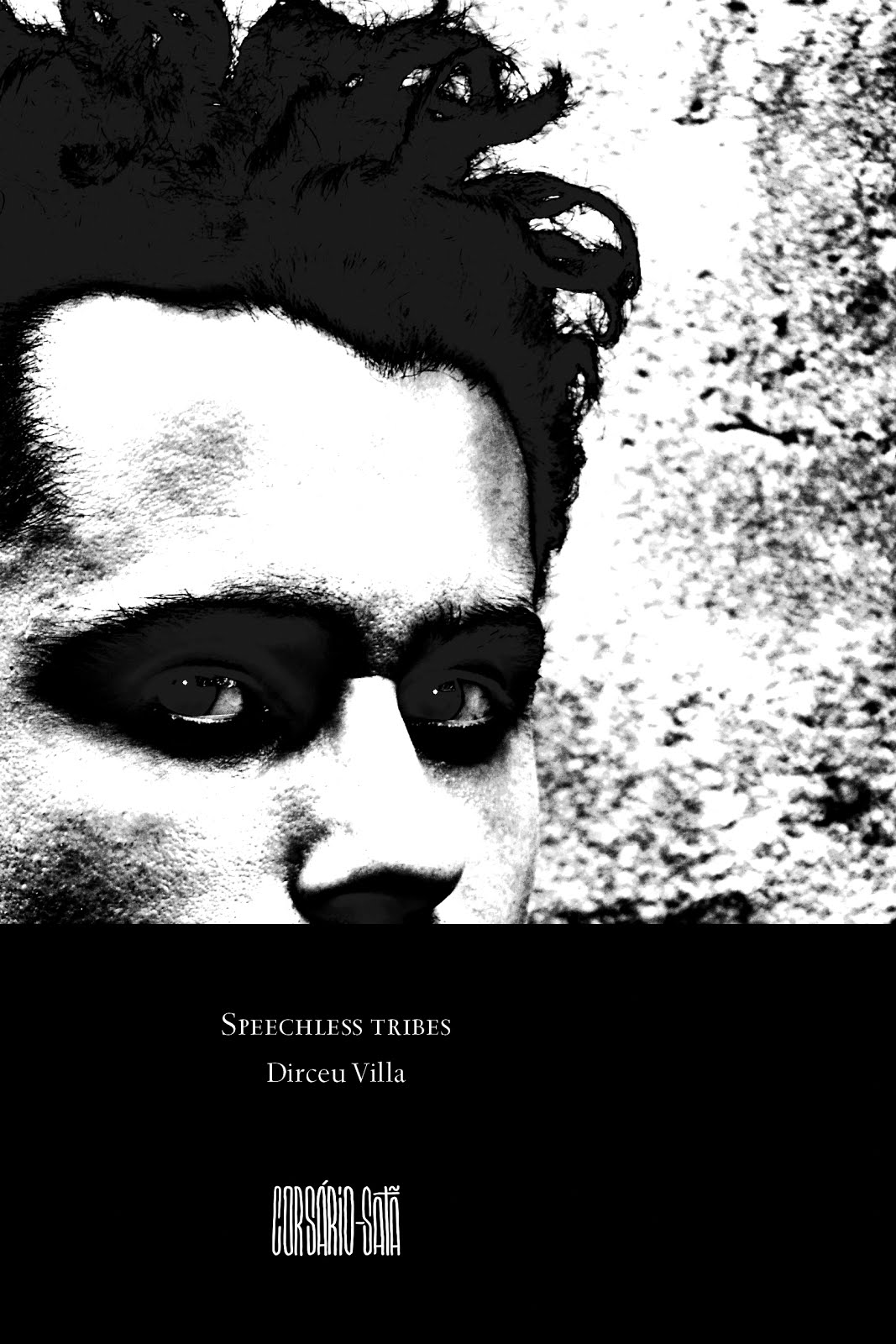Pra começar: uma geral (bem geral) no rock deste país
Sim, o rock é música estrangeira. Mas arte não tem pátria nas trocas intelectuais: o jazz americano foi valorizado antes na França (e dizem que Jean Cocteau, o multihomem, tocou bateria nuns happenings de jazz por lá, nos anos 20), como também a França recebe melhor alguns dos cineastas mais finos dos EUA (Woody Allen, David Lynch), soube entender melhor um inglês (Hitchcock, que sem os cineastas e críticos da Politique des Auteurs ainda seria visto nos EUA apenas como o rentável “mestre do suspense” comercial) e recebeu melhor aquele indivíduo mórbido, Edgar Allan Poe, no final do XIX, com Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, etc. Recebem, reinventam. É sempre assim.
E nem precisaríamos sair da poesia ― a arte em particular deste escriba ―, basta pensar na onipresença do soneto petrarqueano no mundo ocidental por no mínimo uns 4 séculos.
Há pilhas de exemplos por todo lado: vocês se servem sozinhos. Voltando.
Nenhuma referência à Divina Comédia passará despercebida
O Brasil já teve e tem coisas notáveis: os Mutantes (sobretudo influenciados pelos Zombies) foram uma experiência inventiva que influiu numa boa quantidade de músicos também inventivos no mundo do rock, incluindo nisso Kurt Cobain (RIP), que falou deles numa já – quem diria? – antiga entrevista para a MTV; a mesma coisa vale para parte do que fizeram os Secos & Molhados, cuja contribuição ultrapassa em muito a influência cosmética decisiva para a maquiagem de Paul Stanley, Gene Simmons e o resto do Kiss. Como todo mundo sabe, a combinação de Paulo Coelho e Raul Seixas também funcionou como uma máquina exata, a despeito do fato de que provavelmente Seixas é o equivalente nacional de Elvis Presley, ao menos quanto aos bizarros sósias que ambos geram ainda hoje, e sabe-se lá por mais quantos séculos.
Não se faz mais capa como antigamente
Isso quanto aos anos 60 e começo dos 70, do século que já começa a ficar na poeira da memória. Acrescentaria que, sintomaticamente, Maria Bethânia, em 1965, quando cantou “Carcará”, estava imbuída do mais legítimo espírito rock’n’roll. Havia uma secura bruta e boa em “pega, mata e come”. E eu, que comecei tudo isto apenas para chegar a Karina Buhr, já vou logo aproximando a sua “Nassíria e Najaf” desse aspecto de poética denúncia de atrocidades, que tinha em “Carcará” um exemplar destinado a se imprimir na cera da memória. Os anos 60 realmente foram um vórtice para a arte, mas muitos dos que o produziram não sobreviveram às próprias invenções.
Itamar: "que tal o impossível?"
Aquilo que se chamou “vanguarda paulista” teve dois tipos que deveriam ser mais famosos: Itamar Assumpção e Arrigo Barnabé. Assumpção, por todos os motivos que alguém quiser declinar: letrista absolutamente ímpar, instrumentista ousado e inspirado, artista com vocação profundamente crítica e cheia de humor, além de performer magnético. Era simplesmente um furacão humano que morreu ainda jovem, aos 53 anos (e continua jovem); Barnabé teve o auge, na minha leiga & modesta opinião, logo no começo da carreira, com Clara Crocodilo (1980) e Tubarões Voadores (1984). Não apenas as letras são furiosamente loucas e satíricas, mas o conceito daqueles álbums ia das HQs ao virtuosismo orquestral do rock de Frank Zappa (com quem, aliás, Barnabé partilha também o humor anárquico).
"Vê se tem vergonha na cara/E ajuda Clara, seu canalha".
A leitora & o leitor terão a bondade de notar que não estou argumentando. Não estou, evidentemente, citando todo mundo. Estou chamando de memória alguns pontos altos que me parecem fazer sentido contextualmente ao que vou dizendo, ao que me interessa definir sobre rock e sobre uma postura de inconformismo que o gênero tem ― ou deveria ter por pressuposto, na opinião deste poeta. E como isso costurou a história da música de modo mais ou menos marginal no Brasil. A guitarra elétrica, por exemplo, era uma questão política quando Caetano Veloso e Gilberto Gil a incorporaram, sendo que, de qualquer forma, Sérgio Dias e Arnaldo Baptista já eram adeptos da coisa e defenderiam seus amplificadores (valvulados) sempre. A encrenca se deu por gente prototipicamente “MPB” (o rótulo flácido) começar a se engraçar para um lado Jimi Hendrix.

Mais tarde os Titãs, com Cabeça Dinossauro (1986), fizeram um marco de disco importante que partilhava um ambiente onde já havia punk e heavy metal acontecendo (basta lembrar que Schizophrenia, o segundo álbum do Sepultura, thrash e speed metal, sairia logo no próximo ano). Se a gente pode dizer que os Titãs fizeram o seu melhor lá, o Sepultura faria o seu dez anos depois, em 1996, com Roots. No começo a banda pode-se dizer que soava como Slayer e coisas do tipo, mas, com Carlinhos Brown e Olodum (e o ótimo Mike Patton), geraram uma coisa específica.

Mais complexo ― e próximo do meu assunto ― era o caso de Chico Science e Nação Zumbi. Já em 1994 eles misturavam rock; Tropicália; as peculiaridades indescritíveis de Jorge Mautner e sua rabeca; maracatu (vindo das congadas); e a tradição do Movimento Armorial, de Ariano Suassuna; tudo no que chamaram Manguebeat. Havia até o “Manifesto dos Caranguejos com Cérebro” (há caranguejo de monte no mangue, como sabeis), para mostrar como se levavam artisticamente a sério, embora fossem uns debochados. O último rebento da mais que centenária árvore dos manifestos? Chico Science era um desses tipos com poderes catalisadores, e à sua volta moveu não apenas a música, mas a moda, o comportamento, a literatura e mesmo a arte do videoclip: morto cedo demais, em acidente de carro em 1997, meros 3 anos após o lançamento do disco que o fez famoso. O Nação Zumbi continuou com Jorge Du Peixe assumindo vocais e letras, e a guitarra sempre excelente de Lúcio Maia.
Karina Buhr: arte, eletrificada
Karina Buhr e a modalidade rock'n'roll de lançamento de microfone.
E então apareceu, já há 3 anos (2010) Karina Buhr, baiana & pernambucana. É singular esse aparecimento, porque qualquer um poderá sentir na sua música o mesmo poder de estremecimento ouvido no melhor dessa história sumária, e sobretudo incompleta, do caminho errático do rock no Brasil. Ela é “agora”, mas, como todo agora, um agora com história: da banda Comadre Fulozinha ao teatro de Zé Celso ― participou como atriz da montagem das Bacantes, de Eurípedes, no Teatro Oficina, de onde talvez venha parte do extraordinário jogo físico que faz dela uma frontwoman enérgica e única ― sua música e sua experiência, como a de vários citados acima, ultrapassam o rock, mas seria ingênuo não considerar as suas definitivas contribuições (uma delas ― não pequena ― foi dar a Edgar Scandurra a perfeita oportunidade de oferecer sua guitarra talentosíssima a uma compositora, cantora e performer incomum).
Lançou já Eu Menti pra Você (2010) e Longe de Onde (2011). Sua banda é excelente: precisa, inventiva, forte. Fazia um tanto de tempo que não apenas não se ouvia algo novo na música brasileira, e algo tão bom de pensar como letra, quanto de ver como show e ouvir como música. Essa é a mística nada simples que exige a existência da música de Karina Buhr, que apenas vim a conhecer casualmente, já que não assisto à TV faz quase dez anos e não leio jornais há mais ou menos o mesmo: de bobeira, algum tempo atrás, esbarrei no vídeo de “Cara Palavra” na MTV, clip muito simples e efetivo que tem o dom de registrar toda a alta voltagem da música e da performance de Karina Buhr.
Creio que é evidente a qualidade poética de suas letras: porque, talvez por influência da poesia concreta (& de outros tipos de poesia), está atenta à forma das palavras + seu sentido, que ela revira e fazer produzir mais sentido, ou, digamos, aquele sentido das palavras sob o seu significado morto de dicionário, seus sentidos vivos, latentes e potenciais. Explora diferentes significados de uma mesma palavra (“Não precisa me procurar”), ou faz uma palavra se geminar de outra (“Cara Palavra”, que tem um monte de outros procedimentos), ou ainda faz substituições muito engenhosas (“A pessoa morre”, basta ver a simples e sutil inteligência no uso de “verbo” lá). Estou certo de que muitos subestimam a letra no rock, mas os melhores nisso são letristas poderosos (p.e., o exemplar Thom Yorke), até porque, por princípio, a gente só deveria dizer alguma coisa quando tivesse alguma coisa a dizer. Karina Buhr é uma artista completa e rara: é a música, a letra, a performance, tudo concatenado.
Não se deve subestimar a chegada de uma artista desse calibre. E é importante ouvi-la, se por nada mais, pelo bem dos nossos ouvidos. Mais aqui:
Ouvi dizer que algum sem-noção escreveu “o vazio na cultura brasileira”. Seja quem for, não foi o primeiro a dizê-lo (nem será o último).
É o que a falta de curiosidade e/ou conhecimento costuma dizer (seja no jornalismo, nas empoeiradas cátedras universiotárias, nos livrinhos moles de crítica temerária, que nunca duram) em toda época que faz uma revolução na arte.
Essa revolução está acontecendo hoje; como sempre, subterrânea no início. Depois virão os cricríticos que dirão o “eu já sabia”, o moi aussi dos covardes genuflexórios: basta lembrar que o antes vituperado Mário de Andrade, ah-ham, modernista, virou hoje na boca dos cricríticos uma espécie de totem, religiosamente incensado, praticamente inquestionável. Outros, agora vistos a distância, a mesma coisa.
Na poesia, desde meados da década de 1990, as coisas começaram a se modificar: há novos tipos de experiência no verso e fora dele (que ainda não foram lidas com refinamento crítico), na performance (que finalmente tem se tornado uma arte sólida por aqui), em vídeo-poesia, etc. Seus praticantes, muitos deles ignorados neste seu país de origem, já recebem reconhecimento no exterior, como costuma acontecer em meios provincianos: lá primeiro, depois aqui.
E, como assinalei acima com um exemplo particularmente notável da música, não acontece só na poesia, que vive um momento tão bom que só se compara ao modernismo e às vanguardas dos anos 50-60. Uma breve e incompleta lista, de poetas com poéticas diversas, para os curiosos:
Eu, Ricardo Domeneck, Érica Zíngano, Fabiano Calixto, Paulo Ferraz, Angélica Freitas, Marcus Fabiano Gonçalves, Ana Rüsche, André Luiz Pinto, Marcelo Sahea, Érico Nogueira, Guilherme Gontijo Flores, Eduardo Sterzi, Ismar Tirelli Neto, Juliana Krapp, Rodrigo Lobo Damasceno, Rodrigo Madeira, Fabiana Faleiros, Fábio Aristimunho Vargas, Iuri Pereira, Fabrício Corsaletti, Danilo Bueno, Veronica Stigger, Rodrigo Ponts, Gabriel Pedrosa, Marco Catalão, etc.
Fora os poetas importantes, imediatamente anteriores aos de cima, que ainda não receberam sequer 1/4 da atenção que merecem. Alguns, para exemplo: Ricardo Aleixo, Horácio Costa, Marcos Siscar, André Vallias, Donizete Galvão, etc. etc. etc. (e sequer menciono aqueles já amplamente reconhecidos).
Em todos lê-se não apenas uma poesia que já produziu obras autorais transformadoras e inevitáveis, como também ensaios que determinam já aspectos da leitura de poesia e literatura (ou mesmo artes). Entre todos esses há também alguns dos melhores e mais profícuos tradutores de poesia e literatura no Brasil, e juntos disponibilizaram, com seu trabalho, uma biblioteca inteira de várias línguas de literatura estrangeira em português.
E a minha lista acima cita apenas alguns nomes. Os nomes citados nela ainda teriam outros nomes tão bons a lembrar: é muita coisa diferente e estimulante acontecendo ao mesmo tempo.
E nem falei de prosa. E sequer falei de outras artes (é possível produzir coisa igual em cada arte que se escolher). E só no Brasil.
O que eu poderia querer? Boa parte (sabe-se que não são todos) do jornalismo quanto da crítica literária mal tem idéia do que se passa no resto do mundo, nas artes. Nunca se educaram. São caracóis: vivem dentro de uma concha, saem às vezes para xeretar fora, timidamente, andam milímetros e voltam pra segurança da concha. Nem chegam a conhecer o seu quintal, cansamos de esperar que cheguem onde já estamos.
E deixam sempre, por onde passam, aquele rastro viscoso: sempre sabemos por onde passaram.


















.jpg/220px-Cornu_aspersum_(Segrijnslak).jpg)